Texto: Bruno Vaiano | Ilustração: Tayrine Cruz
Design: Juliana Krauss | Edição: Alexandre Versignassi
Quatro séculos antes de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhar o Oscar, uma duquesa de espartilho deu o pontapé inicial na proliferação de universos paralelos que tomou conta da cultura pop. Em 1666, a nobre britânica Margareth Cavendish publicou O Mundo Resplandecente, romance no qual uma jovem princesa é sequestrada e levada a outro mundo via um portal no Pólo Norte. Lá, as estrelas no céu são diferentes, os animais no chão também (alguns são sencientes e falam). Esse é considerado o primeiro mundo alternativo da literatura ocidental.
Desde então, eles se tornaram um recurso literário tão comum quanto viagens no tempo. Em Deuses Humanos (1929), H.G. Wells conta a história de um jornalista frustrado que sai de férias e acaba visitando uma versão utópica da Terra, onde reina uma civilização avançada e igualitária. As Crônicas de Nárnia (1954) começa com duas crianças perdidas num bosque entre mundos – uma espécie de antessala do multiverso, com ares de Éden, em que o chão é pontuado por lagoas, e cada lagoa dá acesso a um outro cosmos. O Homem do Castelo Alto (1962), de Philip K. Dick, se passa em uma rede de multiversos nas quais todas as possibilidades se realizam (inclusive a vitória da 2ª Guerra pelo Eixo, que é a premissa do livro).
Mas o interessante é que universos paralelos têm uma vida secreta fora da ficção: são um efeito colateral comum das equações que explicam o cosmos. A mera possibilidade de que o Universo seja infinito (alta, de acordo com as observações mais recentes) implica a existência de planetas Terra alternativos. Uma versão modificada da teoria do Big Bang que é muito popular hoje – a hipótese inflacionária – abre espaço para o surgimento de infinitos nacos alternativos de espaço-tempo. A mecânica quântica tem uma lacuna explicativa que pode ser preenchida satisfatoriamente quando se supõe que a realidade está sempre se ramificando em novas linhas do tempo. Vamos explicar essas três possibilidades que a física abre.
Mas, antes de começar essa viagem, uma ressalva: a parcela mais cética dos especialistas sequer considera que o debate sobre mundos múltiplos pertença à alçada da ciência. Para eles, trata-se de uma noção filosófica, e só. É que, na acepção mais típica do método científico, só é legítimo levantar uma questão se ela puder ser verificada por experimentos de laboratório ou observações. E não há, no momento, nenhum procedimento capaz de coletar evidências a favor de qualquer uma das ideias acima. Não só por limitação tecnológica, mas, muitas vezes, por causa de barreiras intransponíveis impostas pelas leis da física (como a impossibilidade de superar a velocidade da luz).
Feito o alerta, vamos abandonar a postura linha-dura por um momento e seguir os passos dos professores Brian Greene, da Universidade Columbia, e Max Tegmark, do MIT, dois figurões do debate cosmológico que levam a ideia de multiversos a sério e se dedicaram a compilar as possibilidades em livros e artigos. Tegmark é particularmente importante, já que criou um sistema de classificação de universos paralelos em quatro níveis – que guiará nossa jornada didática pelas realidades paralelas. Só mantenha em mente: nas palavras do astrofísico Adam Frank, “multiversos são um bug, não uma característica” das equações. A matemática, afinal, provê respostas, mas também pode apontar caminhos sem saída na investigação da natureza.

O multiverso repetitivo
Existe um cenário em que o tecido do espaço-tempo é um berço pululante de cópias exatas e inexatas da Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea e de todo o resto que nos circunda. Em algumas delas, nossas vidas são idênticas. Em outras, Marte é um planeta habitável, Steve Jobs nasceu em Curitiba, e você detém o recorde mundial dos 100 metros rasos. Cada configuração possível dos átomos que compõem o mundo material ocorre em algum lugar do Universo.
Esse é o tipo mais básico de multiverso (nível I, na classificação de Tegmark), e construí-lo não tem segredo: esse é um fenômeno que emerge automaticamente caso o nosso Universo seja infinito – e há uma chance razoável de que seja.
Sabe-se que o Universo surgiu há 13,8 bilhões de anos. E o mero fato de que o cosmos tem uma idade finita impõe um limite para o quão longe podemos ver. Esse limite é que a luz de coisas longínquas ainda não teve tempo de nos alcançar. Qualquer coisa localizada a uma distância maior do que a luz pôde percorrer desde a origem do Universo – que equivale, naturalmente, a 13,8 bilhões de anos-luz* – está fora do nosso alcance visual.
Não só visual. Como nada é mais rápido que a luz, nenhum acontecimento que ocorra além dessa distância é capaz de nos afetar; de estabelecer qualquer relação de causa e consequência com o desenrolar dos fatos aqui na Terra. Por isso, os físicos batizaram esse perímetro de horizonte de eventos.
O horizonte de eventos da Terra não tem rigorosamente nada de especial. Se os marcianos existissem, eles teriam seu próprio horizonte, deslocado alguns milhões de km para o lado em relação ao nosso. Todo ser senciente do Universo vive dentro de seu próprio cercadinho, e esses cercadinhos têm sempre o mesmo tamanho, porque são uma consequência da idade do cosmos e do fato de que ele é repetitivo.
Para onde quer que você olhe, a organização é sempre idêntica: planetas girando em torno de estrelas que se aglomeram em galáxias. Os físicos dão grande importância ao fato de o Universo ser homogêneo e isotrópico (ou seja, de suas propriedades físicas se manterem iguais independentemente da direção). O nome disso é princípio cosmológico.
Tal previsibilidade permite calcular a densidade média do cosmos, que é de aproximadamente cinco átomos de hidrogênio por metro cúbico. Na Terra tem mais, no vácuo tem menos, mas em média, é isso. Nem todo átomo é de hidrogênio, claro, mas 92% deles são, então essa é uma aproximação válida. E com esse dado em mãos, dá para inferir que existem cerca de 1082 átomos, um número com 82 zeros, em cada horizonte de eventos. É coisa para caramba, mas ainda é um número finito.
O legal de ter um número finito de coisas é que as maneiras possíveis de combinar essas coisas entre si se esgotam eventualmente, por mais que demore. Por exemplo: há uma quantidade limitada de maneiras de embaralhar as 52 cartas de um baralho. Ela é estupidamente grande: 8 × 10⁶⁷. Mas existe. Assim, não é impossível que, algum dia, em algum lugar da Terra, uma sequência de cartas tenha se repetido na mão de um crupiê.
Da mesma maneira, se o Universo tiver extensão infinita, existem infinitos horizontes de eventos – afinal, cada ponto do Universo tem uma esfera imaginária dessas ao redor de si. Isso significa, então, que há infinitas oportunidades de os 1082 átomos de cada horizonte se combinarem. E com infinitas oportunidades, todas as combinações possíveis vão se repetir, eventualmente.
1082
É o número de átomos que existem no Universo observável.
Ou seja: em algum lugar, há um retalho de Universo onde os átomos estão arranjados de maneira a replicar perfeitamente a Terra e tudo o que você conhece. Um retalho em que você é exatamente você, sem quaisquer alterações. E existem, por tabela, muitos outros retalhos onde há um ou alguns átomos de diferença, e essas diferenças geram alterações sutis na realidade (como Jobs em Curitiba).
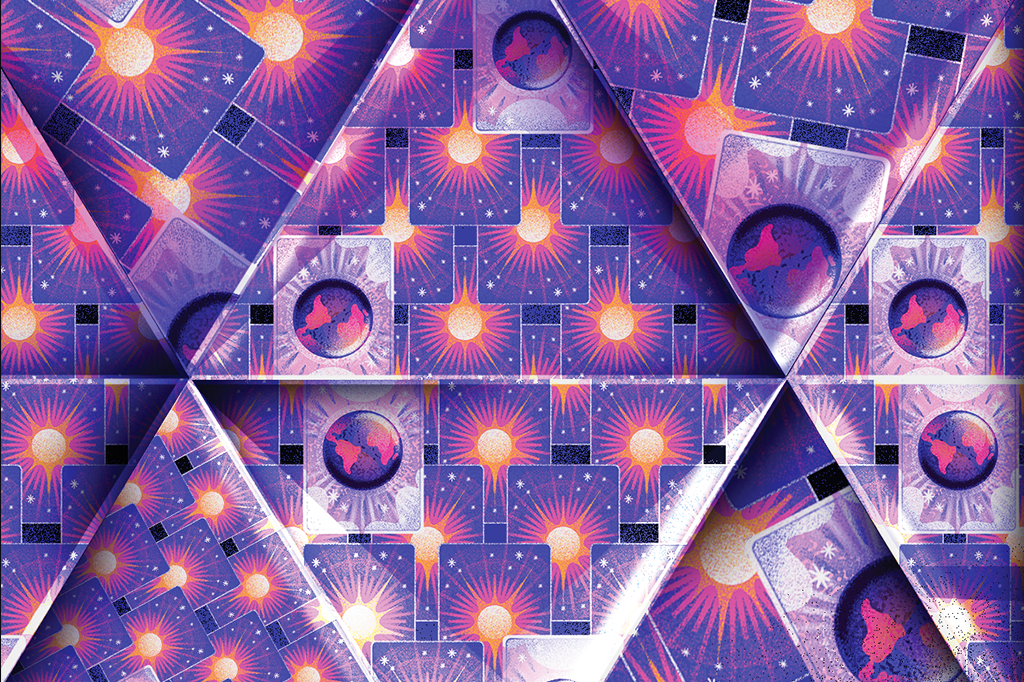
Legal. Então a gente decola amanhã para visitar? O problema é que os intervalos não são tão regulares assim. Não na escala humana, nem em qualquer escala que faça sentido para humanos. Tegmark calculou quantos jeitos diferentes existem de rearranjar 1082 átomos antes que uma combinação precise se repetir. Portanto, o número de horizontes de eventos diferentes que há por aí.
O resultado desse cálculo é tão absurdo que precisa ser explicado em duas etapas. Primeiro, você faz 10155, ou seja: multiplica o dez por si mesmo 155 vezes, o que resulta em um número com 155 zeros de comprimento. Os grãos de areia da Terra, para fins de comparação, são 1017.
Agora, vem a segunda etapa: você faz dez elevado ao tal número com 155 zeros. Ou seja, você multiplica dez por si mesmo cerca de um trilhão de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões (respira) de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de vezes. Bingo: esse é o número de horizontes de eventos que você precisa percorrer, em média, para alcançar um retalho de Universo idêntico ao nosso. Detalhe: percorrer a uma velocidade mais alta que a da luz, para vencer o ritmo de expansão do Universo. Em suma: não tá fácil para quem quer viver uma vida paralela.
Dá até para discutir se a palavra “multiverso” se aplica a esse caso. O mais adequado seria falar em mundos paralelos que coexistem dentro do Universo que já conhecemos; que convivem na mesma extensão do tecido do espaço–tempo (ainda que separados uns dos outros por distâncias absurdas).
Por isso, o leitor pode argumentar que esse multiverso não é de fato um multiverso: um espaço-tempo infinito gera automaticamente cópias e quase-cópias da Terra, mas essas realidades alternativas têm endereço. Localizam-se na mesma extensão de vácuo que nós habitamos e obedecem à mesma física, ainda que fiquem distantes demais.
Felizmente, para os decepcionados, há outras hipóteses plausíveis para a existência de multiversos. Vamos explicar mais uma delas. Vem aí o multiverso nível II de Tegmark.
*Na verdade, nosso horizonte de eventos é uma esfera com 46,5 bilhões de anos-luz de raio, não 13,8 bilhões. Isso acontece porque a distância que a luz pôde percorrer não é o único fator em jogo: o Universo em si está em expansão, o tecido do espaço-tempo se esticou ao nosso redor desde o Big Bang.
O mar de bolhas
Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble descobriu que as galáxias estão se afastando umas das outras, o que confirmou que o Universo está em expansão. E se o Universo cresce em direção ao futuro, dá para fazer engenharia reversa e inferir que ele partiu de um estado menor, mais denso e mais quente no passado. A teoria do Big Bang.
A solução das equações da Relatividade que está por trás da teoria permite rebobinar a fita do cosmos até um ponto primordial, há 13,8 bilhões de anos, em que toda a massa e energia que hoje compõem a realidade estariam concentradas em um “ponto” de dimensões nulas, desprovido de volume. Ali, a densidade e a temperatura, em tese, se tornam infinitas. O nome dessa anomalia é singularidade.
“Em tese” porque quase nenhum cientista aposta que tal coisa de fato aconteceu. O mais provável é que a singularidade seja um erro de calculadora, uma limitação no poder preditivo de Einstein, e que nós precisemos de uma teoria mais avançada para descrevê-la.
Mas o fato é que, quando a gente põe de lado esse problema na fração de segundo inicial, a teoria do Big Bang explica muito bem todos os outros mastodontilhões de segundos que rolaram desde então. Ela é consensual porque bate com todos os dados que os astrônomos coletam sobre a evolução do Universo, ainda que não abarque sua origem.
Uma das coisas que o Big Bang explica é a radiação cósmica de fundo – CBM, na sigla em inglês –, uma luz tênue, invisível a olho nu, que chega do céu de todas as direções, e que é responsável por gerar parte da interferência granulada em uma TV analógica fora de sintonia.
A CBM foi gerada 380 mil anos após o marco zero, num momento em que o Universo havia se expandido o suficiente para atingir a temperatura de 3 mil ºC – um “friozinho” em relação às condições escaldantes iniciais, que permitiu aos elétrons se juntarem aos prótons para formar átomos. Até então, o cosmos, devido à pressão e calor estupendos, estava mergulhado no quarto estado físico da matéria, o plasma, onde tudo o que existe é um sopão de partículas livres.
Esse sopão eletricamente carregado atrapalhava a propagação de luz e deixa o cosmos opaco como um vidro embaçado. No momento da recombinação – como se batizou o fim da época do plasma –, a luz do Big Bang pôde viajar sem percalços pela primeira vez. Essa é a luz pioneira da CBM, que banha o Universo até hoje. A única maneira de explicar sua existência é partir da premissa de que o cosmos começou pequeno e quente, como prevê o Big Bang.
O problema: a radiação cósmica de fundo é muito homogênea. Impossivelmente homogênea, em certos casos. Se você pegar duas amostras de CBM que, de acordo com a matemática do Big Bang, nunca estiveram em contato – porque estavam além do horizonte de eventos uma da outra –, elas estarão em equilíbrio térmico perfeito, como leite frio que se misturou com café quente e fez uma média morna. Isso é inexplicável. Lembre-se: em tese, nada no Universo é capaz de interagir com algo além de seu horizonte de eventos.
Para resolver esse e outros problemas, em 1979, o soviético Alexei Starobinsky e o americano Alan Guth tiveram a ideia de remendar a teoria do Big Bang padrão com um fenômeno chamado inflação, que vai no começo de tudo e esconde a singularidade.
Essa hipótese afirma que, de início, o Universo era um pedacinho minúsculo e vazio de espaço-tempo. Note que o tal pedacinho não contém toda a matéria e energia do cosmos de antemão (calma: nós já vamos explicar de onde eles saem). Além disso, ele é só minúsculo, mas não se trata de um ponto adimensional. Guth e Starobinsky não propõem como esse retalho veio a existir – o passado da cosmologia inflacionária permanece uma incógnita.
Então, houve um surto de expansão acelerada, impensavelmente mais rápida que a luz, em que o Universo dobrou de tamanho a cada 0,0000000000000000000000000000000001 segundo. Tem 34 zeros aí. Nessa brincadeira, regiões não tão distantes do Universo se afastaram tão rápido que saíram do campo de visão (isto é, do horizonte de eventos) umas das outras. Mas o xis da questão é que elas já estiveram juntinhas no passado, e isso explica a uniformidade térmica da radiação cósmica de fundo. Ao final do surto, voltamos à teoria padrão do Big Bang, com o Universo se expandido mais devagar até a situação atual.
Esse surto, em tese, teria sido impulsionado por algo chamado campo do inflaton. Ele ligou, pirou, e desligou. Esse campo gera algo chamado gravidade repulsiva, uma gravidade ao contrário que faz as coisas se afastarem em vez de se aproximarem. Essa gravidade do mundo invertido, embora pareça, não viola o bom senso: está prevista na Relatividade e tem a ver com o fato de que o vácuo do espaço não está perfeitamente vazio (na escala microscópica, a incerteza quântica gera flutuações de energia que a física clássica não prevê). Aprofundar mais a explicação exigiria parágrafos tediosos, então pulemos essa parte.
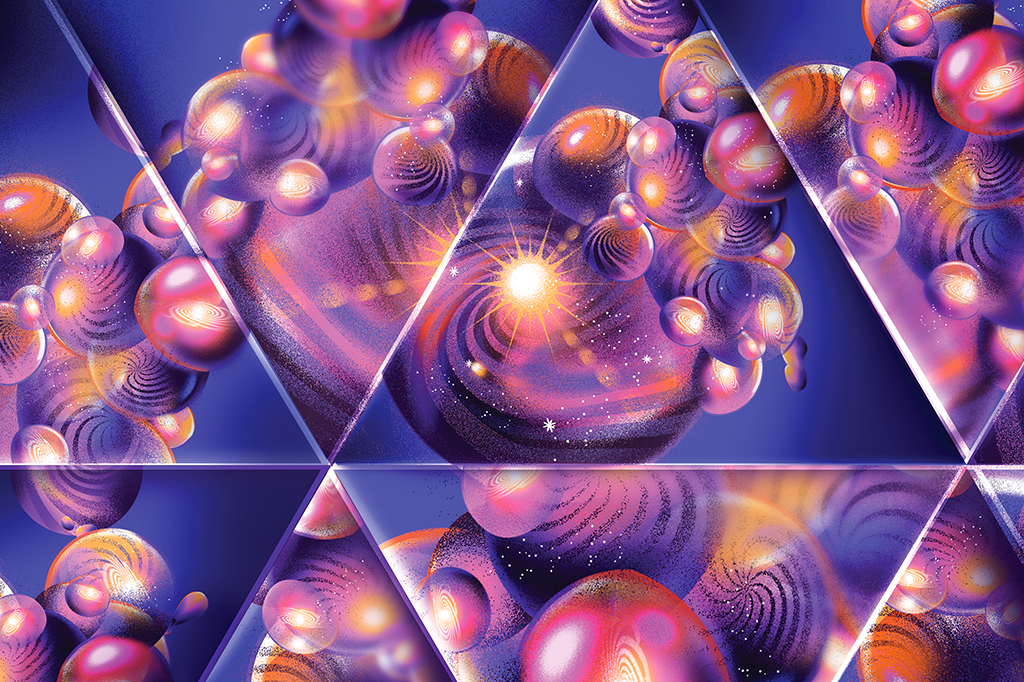
O essencial é explicar o que diabos é o campo do inflaton, porque a definição é pivotal para entender de onde vão sair os universos paralelos. Trata-se de um campo como o eletromagnético, essa coisa invisível que permeia todo o espaço, por onde as ondas de luz, wi-fi e 3G se propagam.
A física pensa nos campos, grosso modo, como coisas que têm um valor em cada ponto do espaço. Um exemplo brutalmente simplificado: se o campo eletromagnético exibe um valor alto na sua sala e um valor baixo na sala da vizinha, é porque você está com a luz, o 3G ou o wi-fi ligados, e ela não.
De início, o campo do inflaton (que não tem nada a ver com o eletromagnético além do fato de ser um campo também) estava empacado em um valor uniformemente alto e estável por todo o Universo, proporcionando a expansão. Porém, sempre há uma chance de que o campo caia para o valor zero em alguns locais, mas não em outros. Essa chance nasce, novamente, de incertezas inerentes à teoria quântica, que vamos explicar logo menos, na próxima seção do texto.
Por ora, é suficiente saber que, nos trechos do Universo primordial em que o campo caía para o valor zero, a inflação se interrompia repentinamente. Nesse momento, a energia do campo passava por um processo chamado decaimento, dando origem a outra coisa: a maçaroca de energia que depois formará estrelas, planetas, galáxias… Bingo: o espaço, até agora vazio, passa a ter recheio. É daí que vem a matéria-prima necessária para o Big Bang – que, na teoria clássica, é dada como uma pré-condição, sem maiores explicações.
A hipótese inflacionária não é um consenso científico como o Big Bang em si. Alguns físicos defendem que ela é o puxadinho perfeito para a teoria original, outros a consideram especulação. Mas ela tem seu poder explicativo, e faz várias previsões que batem com a realidade.
Agora, explicada a inflação, vem o pulo do gato. Você deve ter notado que o campo do inflaton zerou só em uma região específica. Enquanto rolou o decaimento aqui – e esse decaimento criou o nosso universo –, outras regiões permaneceram vazias e inflando. Afinal, nelas, o campo do inflaton ainda estava alto.
Isso significa que, cada vez que o campo cai em algum lugar, ele gera um outro universo. Outro bolsão de estabilidade, similar ao nosso. Esses universos, de acordo com a teoria, são ilhas, cercadinhos de galáxias flutuando num mar mais amplo de espaço vazio em crescimento exponencial, como bolhas dentro do refrigerante. É impossível acessá-los, porque o espaço entre eles se expande mais rápido que a luz. E como sempre sobra algum naco de espaço-tempo inflando em algum lugar, nunca acaba a matéria-prima para novos universos. É o que se chama de inflação eterna.
Essa versão da hipótese inflacionária que inclui multiversos, é claro, está um passo além na escala especulativa. Ao combiná-la com outras vanguardas de investigação – como a teoria de cordas –, pode-se até imaginar um multiverso em que cada bolha apresenta parâmetros físicos (como a massa do elétron ou a força da gravidade) diferentes. O que poderia inviabilizar a formação de astros e o surgimento de vida como conhecemos, mas permitir outras possibilidades, além da imaginação. Esse é o chamado multiverso da paisagem, um eufemismo para a “paisagem” de 10500 possibilidades diferentes que ele gera para as leis da física.
10500
É o número de possibilidades diferentes para as leis da física no multiverso da paisagem.
É perturbador pensar que há tantas versões possíveis da natureza. Mas talvez seja ainda pior pensar em algo mais mundano: que há muitos desfechos possíveis para sua vida. Todos coexistindo.
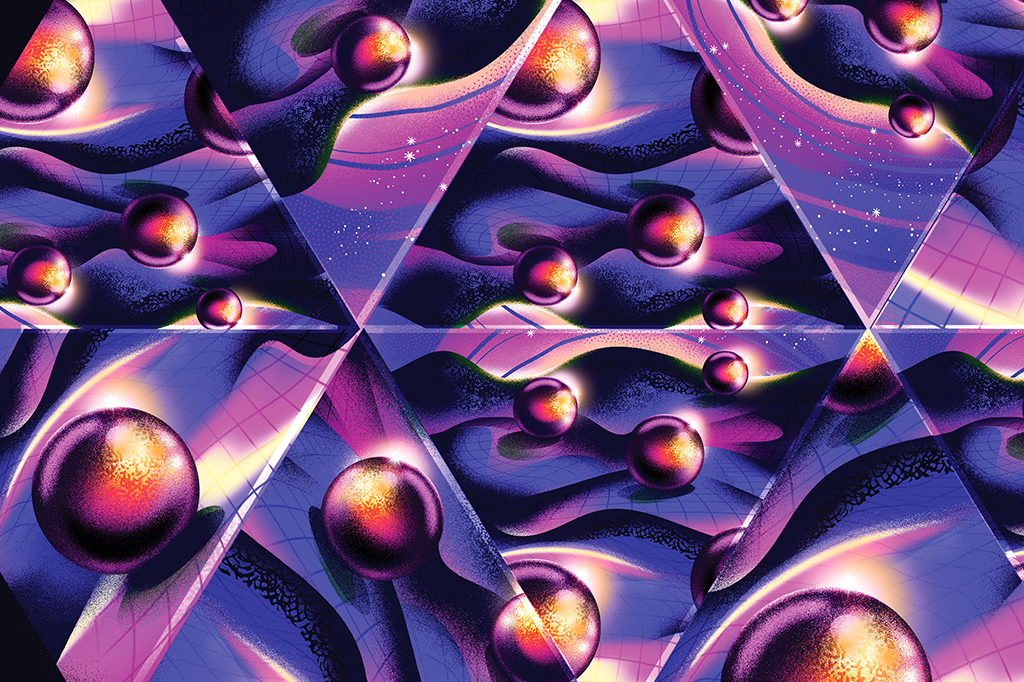
Everett e o multiverso Marvel
Até aqui, vimos como a cosmologia – isto é, a área da física que investiga o Universo em escalas grandes – abre a possibilidade de multiverso. Um pouco mais curioso, porém, é que a física que descreve o funcionamento do mundo microscópico, a mecânica quântica, também permite uma interpretação que gera mundos alternativos. Bem-vindo ao multiverso nível III na classificação de Tegmark.
Em 1926, Erwin Schrödinger publicou sua equação, que é um dos pilares da mecânica quântica. Ela se baseia em uma função de onda, ou seja: em uma traquitana matemática que mostra como uma oscilação qualquer, como um nota musical, se transforma com o passar do tempo. O estranho é que essa função também descreve com precisão o que uma partícula subatômica como o elétron fará (do mesmo jeito que a segunda lei de Newton, na física clássica, descreve o movimento de pessoas ou carros).
O problema, aqui, é que o elétron não é uma onda. O fato de que a descrição matemática de uma onda se aplica a ele é algo fortuito. Existem outras formulações da mecânica quântica, como as de Heisenberg ou Feynman, que fazem as mesmas previsões por outros caminhos matemáticos. As partículas subatômicas se comportam como ondas em certos aspectos, como coisas sólidas em outros aspectos, e na verdade não são uma coisa nem outra. Como são pequenas demais para serem observadas diretamente, precisamos nos satisfazer com a matemática, sem entender bem como ela se traduz na realidade.
Ainda em 1926, um outro físico, chamado Max Born, percebeu o seguinte conforme explorava a equação de Schrödinger: ao elevar a função de onda ao quadrado – pois sim, físicos elevam ondas ao quadrado –, você gera uma espécie de mapa que mostra onde o elétron tem mais chances de estar. Onde há um pico, é mais provável encontrar a partícula; onde há um vale, é menos.

Um elétron dentro de uma caixa, portanto, pode ser pensado como uma onda que ocupa a extensão da caixa. Essa onda pode indicar, por exemplo, que há 30% de chance de que ele esteja no canto esquerdo e 70% de que esteja no canto direito. Com um porém (e aqui, aperte os cintos, porque a coisa fica maluca): no momento em que você abre a caixa, o elétron decide onde vai estar. A probabilidade de algum local vai a 100%, e a dos demais locais cai a 0%.
Se você fizer esse teste com dez caixas, encontrará sete elétrons no canto dos 70% e três no canto dos 30%, como manda a probabilidade. Mas você nunca verá o estado de superposição em si, quando a partícula está nos dois lugares ao mesmo tempo. O momento da observação – em que as probabilidades desaparecem e a natureza opta por uma delas – é conhecido como colapso da função de onda, e há um problema aí: a equação de Scrödinger não descreve o colapso. Ela não diz o que ocorre no momento em que o elétron se decide.
Como a equação falha nesse ponto, a ideia de colapso da função de onda – em que o elétron “escolhe” onde aparecerá – não está propriamente na alçada da ciência. É só uma interpretação possível sobre o que acontece; a mais popular dentre as que existem. Ela ganhou o nome de interpretação de Copenhagen (onde nasceu e viveu o físico dinamarquês Niels Bohr, que foi seu maior defensor). Muito se discute se a visão de Bohr ficou mais conhecida por mérito ou por política: afinal, ele era um cachorro grande no mundo acadêmico. O incômodo de Einstein com essa ideia, diga-se, motivou a frase “Deus não joga dados”.
Jogos de azar são a menor das ousadias de Deus: várias das alternativas interpretativas para a mecânica quântica são tão esotéricas quanto o sorteio mágico de Bohr. A mais famosa foi ideia de Hugh Everett III, um estudante de pós-graduação de Princeton. Em 1957, ele propôs, em poucas palavras, o seguinte: quando você abre a caixa com o elétron dentro, passam a existir dois universos paralelos. Em um deles, o elétron se materializa no canto direito; em outro, o desfecho do canto esquerdo se torna realidade
Você, alocado automaticamente um desses universos, não tem acesso ao outro. Fica com a ilusão de que só o seu próprio desfecho é real (seu outro eu, no outro Universo, acha o mesmo, é claro). A chance de que você vá parar em cada um das realidades é proporcional à probabilidade calculada originalmente, de 70% e 30%.
Toda vez que uma função de onda colapsa, portanto, na verdade não há colapso. O Universo estaria em um estado permanente de ramificação; ele seria uma árvore com inúmeros galhos que dão origem a mais galhos, cada um abrigando uma linha do tempo alternativa. É a chamada Interpretação dos Muitos Mundos (MWI, na sigla em inglês).
58% dos físicos acreditam que a interpretação dos muitos mundos pode ser verdade. Esse foi o resultado de uma enquete feita com 72 especialistas em 1991. Por mais esotérica que pareça a ideia de um multiverso quântico, não há critério que permita descartá-lo em prol da interpretação ortodoxa da teoria.
Onde essas linhas do tempo se localizam no tempo e no espaço é outra questão. Elas não são necessariamente realidades de carne e osso, átomos e luz, como as que descrevemos antes. Um jeito plausível de explicar a MWI é que seu outro eu permanece na mesma Terra que você, mas como as funções de onda que descrevem seus átomos estão fora de fase em relação às funções de ondas dele, elas não conseguem interferir uma com a outra. Vocês podem se atravessar sem se tocar, se ver ou interagir de nenhuma outra forma.
Essa ideia – que segura o roteiro do último filme da saga Vingadores e outros longas de super-herói – já aparecia na ficção antes da Marvel e do próprio Everett. Em um romance obscuro de 1938 intitulado A Legião do Tempo, há duas linhas do tempo paralelas, que se bifurcaram em um instante pivotal no passado. Um dos personagens explica: “Com a substituição das ondas de probabilidade por partículas concretas, as linhas do mundo dos objetos não estão mais fixadas nos caminhos simples de antes. (…) há uma proliferação infinita de ramos possíveis, à mercê do indeterminismo subatômico”
Parece ridículo (de certa forma, é ridículo), mas trata-se de uma interpretação tão válida quanto a de Copenhagen, porque as duas têm o mesmo desfecho: produzem a realidade como a conhecemos, em que o elétron se apresenta em um lugar definido quando abrimos a caixa. Na ausência de um experimento que permita colher evidências a favor de uma outra interpretação, ambas permanecem vivas.
Nós não somos especiais
Diante de tudo o que vimos aqui, fica no ar uma pergunta. Ainda que as equações da mecânica quântica ou da relatividade geral permitam, em princípio, a existência de outros mundos, por que os cientistas se dão ao trabalho de imaginá-los? Se não há e provavelmente nunca haverá experimentos ou observações astronômicas capazes de provar ou descartar as hipóteses que listamos acima, será que elas não devem permanecer no âmbito da filosofia e da ficção?
Os multiversos atendem – ou melhor, são uma das maneiras de atender – algo que se denomina “problema dos ajustes finos”. Os físicos dependem de mais de dez números para explicar o Universo como o conhecemos. São valores como a massa do elétron ou a velocidade da luz, que só podem ser determinados experimentalmente. Se esses parâmetros fossem diferentes, as leis do cosmos seriam distintas por tabela – e talvez não permitissem a formação de planetas ou o surgimento de vida como o conhecemos.
Por que esses números são assim, e não assado? Por que o Universo calhou de ser exatamente como precisava ser para que estivéssemos aqui fazendo essa pergunta? O multiverso da paisagem, que mencionamos brevemente no texto, faz essas perguntas desaparecem: diz que há um espaço-tempo para cada conjunto de leis da física, e nós estamos, é claro, no que era propício para nossa existência. Não há nada de incrível nisso. Nessa toada, a existência de multiversos fornece um jeito de escapar da conclusão de que nós somos, de alguma forma, especiais.
Mas, talvez, nosso fascínio pelo multiverso derive de um problema oposto, egoísta: nossa dificuldade de lidar com escolhas, de viver uma vida só. A ideia de que cada decisão significa renunciar a uma outra sequência de acontecimentos perturbou Sartre, Camus e tantos outros. Sylvia Plath escreveu em A Redoma de Vidro: “Eu vi minha vida ramificando-se diante de mim como uma figueira. Na ponta de cada galho, como um figo gordo e roxo, um futuro maravilhoso acenava e piscava. Um figo era um marido, um lar feliz e filhos, outro era uma poetisa famosa e consagrada (…) Eu gostaria de devorar a todos, mas escolher um significava perder todos os outros.”
Nos muitos mundos quânticos de Everett, ela foi todas essas coisas ao mesmo tempo. Só não pôde saber disso.
Agradecimento: Juliano Neves, físico, professor convidado da Universidade Federal de Alfenas (Unifal). Consultamos os livros A Realidade Oculta e O Tecido do Cosmo, de Brian Greene; In Search of Schrödinger’s Cat e Schrödinger’s Kittens, de John Gribbin; An Infinity of Worlds de Will Kinney; Lost in Math de Sabine Hossenfelder e as aulas da disciplina de graduação “The Early Universe”, ministrada por Alan Guth no MIT.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo: a física dos multiversos Publicado primeiro em https://super.abril.com.br/feed
Nenhum comentário:
Postar um comentário