Drogas. Alucinógenos. Expansores de consciência. Medicamentos. Psicodélicos. Dependendo do grupo, do lugar e do contexto, é assim que são chamadas certas substâncias que, em comum, podem instigar mudanças profundas na rede cerebral e no estado mental.
Um dia proibidas, perseguidas pelo uso recreativo e relegadas às gavetas dos laboratórios, elas voltam a estar na mira de pesquisas sérias pelo potencial de tratar problemas como depressão, ansiedade, dependência química e transtorno de estresse pós-traumático.
Essa nova leva de estudos integra o que já se batizou por aí de “renascimento psicodélico”. Embora o interesse da ciência ocidental pelo tema tenha crescido na década de 1940, os experimentos acabaram interrompidos alguns anos depois em decorrência de uma política de guerra às drogas muito menos baseada em evidências do que em pânico moral.
Agora a história está mudando. E grande parte disso se deve ao trabalho de pesquisadores no Brasil e lá fora, num processo que tem tudo para redefinir o jeito de ver e nomear essas substâncias — capazes, elas mesmas, de inspirar o questionamento e a quebra de padrões dentro da cabeça e, quem sabe, na própria sociedade.
São quatro os psicodélicos clássicos. A psilocibina vem de uma espécie de fungo, apelidada nos anos 1960 de “cogumelo mágico”; e o LSD, sigla de dietilamida do ácido lisérgico, também foi sintetizado a partir de um fungo, o esporão-do-centeio.
Os outros dois são obra do reino vegetal: a mescalina é extraída dos cactos peiote e São Pedro; e a DMT, ou dimetiltriptamina, se encontra em plantas como a chacrona e é um dos ingredientes do chá de ayahuasca.
Nosso país está no mapa dos estudos de relevância com esses princípios ativos. Um dos expoentes do movimento é o neurocientista Eduardo Schenberg, fundador e diretor-presidente do Instituto Phaneros, em São Paulo.
Numa manhã ensolarada de fim de semana, ele conversa com este jornalista por videochamada de um espaço aberto, com árvores no fundo. E esclarece quem são essas moléculas e os processos fisiológicos e subjetivos que elas desencadeiam quando ingeridas ou administradas.
Embora tenham origens e nomes diferentes, os psicodélicos clássicos têm semelhanças entre si. E, quimicamente falando, também são parecidos com algo que naturalmente circula pelo nosso corpo, o neurotransmissor serotonina, bastante associado à sensação de bem-estar.
Schenberg compara os neurônios às árvores ali atrás de onde ele dá a entrevista. Diz que eles têm uma estrutura meio arbórea, com galhos, tronco e raiz. Os galhinhos captam e as ramificações da raiz liberam impulsos elétricos. Entre as extremidades de uma célula e outra, há quase sempre um pequeno espaço, a fenda sináptica. É ali que atuam os neurotransmissores.
No estilo chave-fechadura, essas moléculas se ligam a receptores específicos localizados nos galhos, permitindo a troca dos impulsos, a famosa sinapse. “Os neurônios têm milhares de pontos de contato, literalmente. Uma célula recebe milhares de sinapses e emite sinapses para outros milhares de células”, ensina o pesquisador.
E os psicodélicos com isso? Quando chegam ao cérebro, eles tendem a estimular mais disparos eletroquímicos e a criação de novas rotas de transmissão de impulsos entre os neurônios.
Para entender como tal fenômeno acontece, o neurocientista britânico Robin Carhart-Harris, figura reconhecida na renascença desse campo e fundador do Centro de Pesquisa Psicodélica do Imperial College de Londres, coordena estudos com exames de imagem que buscam mapear a atividade cerebral de voluntários sob efeito dessas substâncias — ou, como diria a música, in the sky with diamonds.
Ele compara as rotas neurais a trilhas deixadas por trenós na neve: quanto mais trenós passam pelas mesmas trilhas, mais elas se destacam na paisagem e escoam outras para e de si. A viagem psicodélica seria, assim, uma neve fresca que suaviza temporariamente o destaque das trilhas mais sulcadas e favorece o tráfego por caminhos extraordinários — desconhecidos, fascinantes ou mal-assombrados.
O brasileiro Schenberg integrou a equipe de Carhart-Harris na Inglaterra. De volta para cá, fundou um instituto que desenvolve estudos clínicos e cursos de formação sobre o uso terapêutico de psicodélicos, que ainda não é liberado nem legal no país.
Ele recorre a outra metáfora para explicar os efeitos dessas moléculas. Imagine uma orquestra, com diversos instrumentos tocando e conversando entre si, enquanto o maestro, depois de anos e anos na mesma regência, tenta recuperar o fôlego. Muitas das condições de sofrimento mental parecem estar ligadas à rigidez desse maestro.
Ou, se preferir a outra imagem, à atração por aquelas trilhas na neve mais antigas e sulcadas. Na prática, isso se traduz em pessoas deprimidas, angustiadas, inflamadas…
Os impulsos neurais induzidos pelos psicodélicos teriam o condão de dessincronizar os demais, tirando o maestro do prumo, abrindo rotas e alterando uma série de processos bioquímicos que regem nossa percepção sensorial do mundo, filtram e organizam padrões mentais e definem no que acreditamos — inclusive quem nós somos.
+ LEIA TAMBÉM: As maiores inovações médicas brasileiras de 2022
Uma palavra sobre princípios psicoativos
Para compreender os psicodélicos, é preciso considerar também outro conceito, o de substâncias psicoativas. Não, não é sinônimo de droga. São, pura e simplesmente, moléculas que atuam no sistema nervoso central.
Podem ser estimulantes, como a cafeína, a cocaína e as anfetaminas. Depressoras, como o álcool, a maconha e a heroína. Ou perturbadoras e expansoras de consciência, caso dos psicodélicos. Esses também são chamados de enteógenos ou alucinógenos — o último, um termo criticado, pois as fronteiras entre o mundo real e o das percepções sob efeito da droga não costumam se perder completamente.
“Se formos comparar a experiência psicodélica a algum fenômeno natural, esse fenômeno seria o sonho”, diz Dráulio Barros de Araújo, professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde lidera estudos sobre o potencial terapêutico da ayahuasca.
Mas a classificação geral dos psicoativos é questionável: há substâncias que se encaixam em diferentes grupos conforme a dose ou a fase de sua ação.
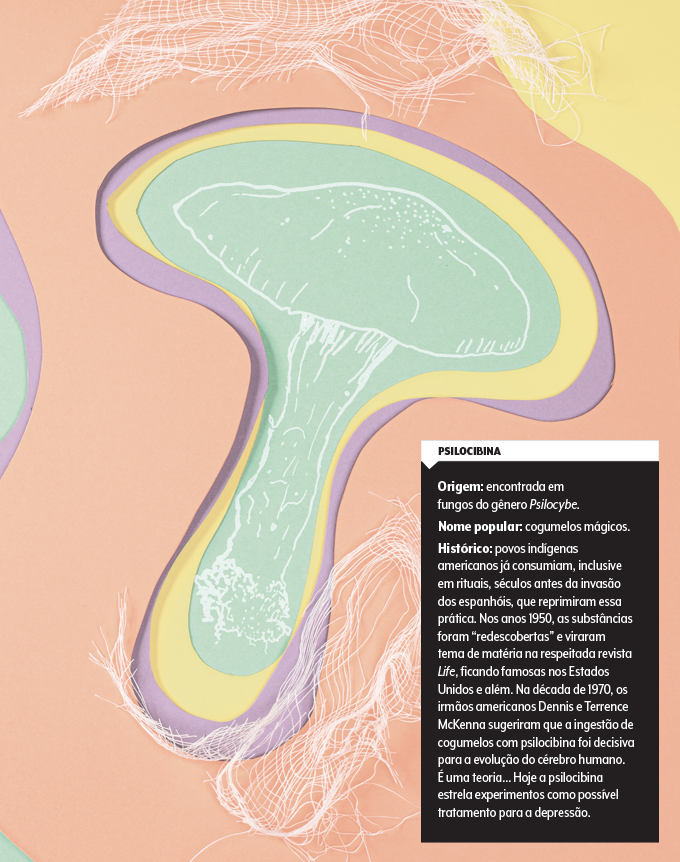
Sob efeito (e sob controle)
Dissolução do ego, ou do eu, é uma das expressões usadas para descrever o tipo de estado subjetivo gerado pelo relaxamento das funções cerebrais — quando o maestro já não está mais no comando.
O jornalista americano Michael Pollan escreveu sobre a história das substâncias psicodélicas e suas experiências pessoais com elas no livro Como Mudar Sua Mente (Intrínseca), que deu origem a uma série homônima lançada pela Netflix.
Ele descreve assim um dos aspectos de uma viagem com cogumelos: “‘Eu’ agora tinha me tornado um amontoado de pequenos papéis não muito maiores que um post-it, e eles estavam sendo espalhados pelo vento. Mas o ‘eu’ que observava essa catástrofe aparente não tinha nenhum desejo de correr atrás dos pedaços e empilhar meu antigo eu novamente. Na verdade, não tinha desejos de tipo nenhum. Quem quer que eu fosse agora, essa pessoa estava tranquila com o que viesse a acontecer”.
Garantir essa tranquilidade — ainda que você visite episódios e lugares intranquilos da mente — é um dos objetivos da psicoterapia assistida por psicodélicos, hoje a forma mais indicada e controlada de investigar o uso terapêutico. Porque a ideia não é pegar um comprimido, tomar e sair por aí.
Tudo é feito na companhia de terapeutas treinados. Há sessões anteriores àquela em que a pessoa recebe a substância, e os encontros posteriores também são acompanhados, inclusive para debater sensações, lembranças e reflexões.
Schenberg conta que o protocolo de tratamento é desenvolvido com base tanto no quadro geral de sintomas quanto na trajetória do indivíduo atendido, “que tem nome, sobrenome, raça, idade, suas formas específicas de estar no mundo”. “Os atendimentos são feitos por duplas, de preferência uma pessoa da área médica e outra da psicologia. Se possível, um homem e uma mulher”, relata.
O neurocientista sublinha a importância da diversidade, mas sabe que a área ainda dispõe de poucos profissionais especializados mundo afora e, a exemplo do que ocorre na medicina em geral, é dominada por “rostos brancos”. Mas a expansão desse palco e dos seus atores é viável e desejável: pode alimentar caminhos instigantes de pesquisa e viabilizar a integração desse conhecimento com saberes e práticas regionais e ancestrais.
Schenberg faz questão de pontuar que os psicodélicos não estão aí para aposentar tratamentos consagrados para transtornos mentais. “É uma outra abordagem”.
Ele dá um exemplo: “Uma pessoa deprimida toma um antidepressivo e segue seu dia a dia: vai cozinhar, sai de casa, trabalha. O tratamento ajuda a manejar os sintomas, e isso tem seu valor. Na psicoterapia assistida por psicodélicos é diferente. Essas substâncias não são para uso diário. A pessoa toma poucas vezes, sempre sob supervisão, e não vai fazer nada além do trabalho terapêutico nesses períodos, que duram de quatro a 12 horas. O indivíduo fica num estado de profunda alteração da consciência, podendo flutuar rapidamente da tristeza à alegria, do medo à transcendência em minutos”.
O pesquisador continua: “A pessoa com depressão provavelmente vai chorar bastante, mergulhar num oceano de tristeza, e vai ter lampejos de deslumbre, de riso, alegria, amor. Sentir essas coisas, que para ela têm sido tão raras, sentir que é possível se sentir assim, já é terapêutico por si só. Essa flutuação da paisagem afetiva abre possibilidades”. Possibilidades terapêuticas.

Diferentes psicodélicos têm sido testados e usados para aliviar o sofrimento de pessoas com sintomas parecidos; assim como uma mesma substância tem ajudado pessoas com queixas e problemas diferentes, com diagnóstico de depressão, dependência e estresse pós-traumático, ou mesmo face a uma doença incurável, diante da qual a droga dá suporte para lidar com um fim iminente.
“Os psicodélicos não têm uma ação específica. Eles basicamente geram estados psíquicos e emocionais diversos e até difíceis de prever. No entanto, hoje, para aprovar um tratamento qualquer, o caminho ainda é a sua especificidade”, expõe Schenberg.
Esse é, aliás, um dos desafios que rondam a classe. “Depois da chegada dos primeiros antidepressivos, nos anos 1950, a psiquiatria perseguiu uma espécie de sonho da especificidade. Quis mostrar que os transtornos são doenças distintas, relacionadas a alterações neuroquímicas específicas que seriam corrigidas por fármacos específicos”, analisa o pesquisador.
Muitas vezes, porém, as coisas são mais complexas — e difíceis de colocar em caixinhas.
Mesmo pensando em patologias mentais distintas, dois fatos são incontestes. O primeiro é o aumento preocupante na prevalência desses transtornos, alguns deles culminando em perda de qualidade de vida e ideação suicida — somos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a nação mais ansiosa do planeta.
O segundo é que parcela expressiva dos pacientes — cerca de 30% daqueles com depressão, de acordo com estimativas — não responde adequadamente ao tratamento convencional.
Pandemia, desigualdade social, menos tempo disponível para descanso ou atividades físicas e culturais, demandas da casa e do trabalho para equilibrar… Como é que fica o estado mental? “Vai péssimo, péssimo, péssimo”, afirma Schenberg, destacando que os problemas dessa ordem não se resumem a uma questão do indivíduo. Refletem a sociedade.
+ LEIA TAMBÉM: O que esperar dos tratamentos com cannabis medicinal?
Terapia na prática
O tratamento com psicoterapia assistida por psicodélicos mais próximo de ser regulamentado para uso clínico é o de transtorno de estresse pós-traumático com MDMA, nos Estados Unidos.
A agência regulatória americana deve aprová-lo em 2023. Princípio ativo do ecstasy, o MDMA é considerado um psicodélico não clássico: sua fórmula química não é semelhante à do neurotransmissor serotonina (como psilocibina e LSD) e seus efeitos mais significativos se concentram no terreno do afeto e da empatia.
Há especialistas que nem o consideram uma molécula psicodélica, classificando-a como uma anfetamina ou um empatógeno.
No rol dos tratamentos que podem ser liberados para o público nos EUA, aparece na sequência a terapia assistida com psilocibina para depressão — provavelmente, para casos que não respondem ao tratamento tradicional.
O acompanhamento de profissionais habilitados é sempre parte essencial do protocolo.
Viagem pelo tempo
No fim da nossa conversa, Schenberg conta, debaixo da sombra de uma árvore, que “entendemos bem o que acontece no córtex cerebral”, a camada que seria mais tocada pelos psicodélicos, mas “quando a gente fala do cérebro inteiro, aí já entende um pouco menos”.
O psiquiatra Dartiu Xavier da Silveira, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), diz algo na mesma linha, em outros termos: “Entendemos bastante, sim, dentro da nossa pobreza de conhecimento”. O médico, que estuda os psicodélicos desde os anos 1990, conversa com este repórter de uma sala fechada ao meio-dia de uma segunda-feira.
Silveira deu aula para Schenberg e passou a se interessar por essas substâncias quando outro aluno seu voltou de uma expedição na Amazônia falando sobre o chá de ayahuasca. O estudante da Unifesp trouxe relatos atestando que, após tomar o preparo, utilizado em rituais religiosos, algumas pessoas se livraram da dependência alcoólica — e sem que uma bebida substituísse a outra.
Foi mais ou menos nessa época que a ciência psicodélica começou a reaparecer com força no meio acadêmico internacional. “A partir de então, tivemos um avanço imenso na neurobiologia, e hoje temos instrumentos para medir muito mais coisas relacionadas a esses fenômenos que acontecem no cérebro. Mas os pesquisadores lá atrás já sacavam isso”, contextualiza o professor.
“Lá atrás” é o período que vai dos anos 1940 aos 1960, quando os psicodélicos foram descobertos, investigados, cultuados, consumidos e amados até serem temidos, perseguidos e banidos por autoridades na Europa e nos EUA.
Entre as substâncias clássicas, a única que não veio da natureza e foi criada em laboratório foi o LSD. Em 1943, o químico suíço Albert Hofmann revisitou uma molécula que projetara havia cinco anos a partir de um fungo — ele queria produzir um estimulante respiratório e circulatório.
O cientista se perguntou como aqueles efeitos mentais inesperados e tão intensos poderiam ser úteis na psiquiatria, e logo médicos da área começaram a se perguntar a mesma coisa e a fazer pesquisas e congressos a respeito.
A mente e o campo se abriram para essas drogas, sintéticas ou naturais, principalmente na década de 1960. O psicólogo americano Timothy Leary foi um dos popularizadores dos psicodélicos. Ele e Richard Alpert, seu colega no Departamento de Psicologia da Universidade Harvard, tocaram uma série de experimentos com as substâncias até serem demitidos da instituição, em 1963, acusados de agir com mais entusiasmo do que rigor científico — eles não abriam mão de tomar as drogas junto com os voluntários, por exemplo.
Leary e Alpert são dois dos personagens de uma geração que enxergou nos psicodélicos uma espécie de resposta a um mal-estar coletivo. Se não uma porta de saída para uma cultura baseada no individualismo e no consumismo, e seus efeitos colaterais psíquicos, pelo menos um olho mágico para o universo lá fora — e para o de dentro também.
As reações vieram sobretudo na forma de leis e campanhas de desinformação. Ainda nos anos 1960, a proibição encabeçada pelo governo americano impôs barreiras à circulação das substâncias e à pesquisa. A antipropaganda disseminou mitos (viagens sem volta, com neurônios fritos) e estereótipos (coisa de gente criminosa e libertina).
Ao mesmo tempo que o imaginário psicodélico era formado no seio da contracultura e das artes, um pesadelo de repressão surgia à sua volta, com consequências morais e legais atreladas ao consumo das drogas. “A interrupção dos estudos na área não tem nada a ver com ciência. E, até hoje, inclusive na classe médica, existe resistência. Nos anos 1990 era bem pior, mas ainda tem gente que me olha torto por causa disso”, revela Silveira.
O psiquiatra Sergio Tamai, diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), não é um dos que olham torto. Tampouco se entusiasma demais com as promessas dos psicodélicos.
Ele lista várias pedras no caminho para sua regulamentação e aplicação terapêutica, a começar pela dificuldade de fazer estudos robustos e metodologicamente confiáveis com essas substâncias — aqueles que diferenciam inclusive o que é a ação da droga do efeito placebo, exercido pela expectativa de melhora do paciente.
“É preciso ter pesquisas com muitas pessoas, em ambiente controlado, e elas são caras. Vivemos a medicina baseada em evidência, e, se você tem poucos estudos, é difícil comprovar que algo funcione”, sintetiza o médico.
Tamai fala com mais animação sobre o desenvolvimento de novos fármacos com base nesse conhecimento em construção. “A partir da psilocibina, por exemplo, você pode criar toda uma gama de medicamentos. Moléculas que seriam aperfeiçoadas para ter uma ação mais seletiva, onde a gente quer”, justifica.
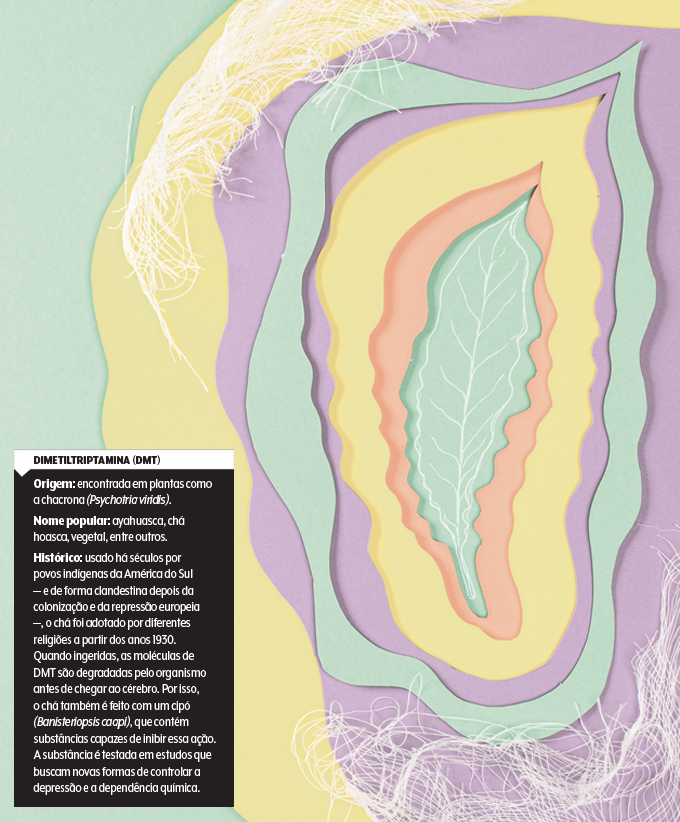
Seria um sonho de especificidade, como o mencionado por Schenberg?
“Eu posso falar várias coisas bonitas sobre a atuação dos psicodélicos no cérebro, e não vou estar mentindo. Mas a verdade é que essa atuação passa também por um monte de coisa que a gente ainda não sabe”, admite Silveira.
“Algumas pessoas dizem: ‘Que raio de substância é essa que trata tudo?’ E falam que é engodo, conto do vigário. Só que, se você considerar que os psicodélicos agem no sistema nervoso de forma global, fica mais fácil entender por que poderiam melhorar tudo o que não está bem”, prossegue o professor da Unifesp.
+ LEIA TAMBÉM: Uma nova era no controle da depressão
Entre as trevas e o renascimento
Em 1964, depois de serem afastados de Harvard e pouco antes da proibição das drogas, Leary, Alpert e outro colega da universidade, Ralph Metzner, lançaram A Experiência Psicodélica (Goya), um manual para guiar as viagens do público em geral.
“Não é a droga (…) que produz a experiência transcendente. Ela apenas age como uma chave química: abre a mente e libera o sistema nervoso de seus padrões e estruturas comuns. A natureza da experiência depende quase inteiramente de set (mentalidade) e setting (ambiente)”, escreveram.
Já em 2021, o neurocientista Carl Hart, da Universidade Colúmbia, nos EUA, reacendeu o debate ao publicar Drogas para Adultos (Zahar), em que aborda o uso de substâncias psicoativas como um direito do cidadão e nada incompatível com uma vida “respeitável”.
“Este é um livro para gente crescida. Com isso, quero dizer adultos saudáveis, autônomos, responsáveis (…) Indivíduos que cumprem suas obrigações parentais, ocupacionais e sociais; que usam drogas de maneira bem planejada, a fim de minimizar quaisquer perturbações nas atividades cotidianas; que dormem o suficiente, se alimentam de forma nutritiva e se exercitam regularmente; que não colocam a si ou aos outros em situações fisicamente perigosas…”, defende.
Referência em estudos sobre dependência química, Hart pode desconcertar quem o lê ou o ouve num primeiro momento. “Usar drogas faz parte da minha busca pela felicidade, e elas funcionam”, escreve. Tudo depende do contexto.
Diferentemente de Leary e seus colegas, o cientista nem se mostra um grande fã do universo psicodélico: “O movimento psicodélico popular de hoje parece ser dominado por pessoas que justificam o uso dessas drogas envolvendo-o em jargão médico ou espiritual”. Mas, no seu modo de ver as coisas, desde que sejam utilizados por adultos com informação e responsabilidade, esses e outros psicoativos podem propiciar ou realçar uma variedade de estados mentais positivos.
“Se o seu objetivo é buscar alívio de uma doença física ou emocional, alcançar a transcendência espiritual ou encontrar seu deus, legal. Mas, se você quer apenas se divertir, nada feito”, questiona. Diversão, empatia, gratidão, conexão… Há um repertório de experiências bem-vindas que o autor só passou a associar ao mundo das drogas depois de tentar provar e generalizar seus perigos.
Anos dedicados a apurar os desdobramentos psíquicos e sociais do uso de substâncias ilícitas fizeram o pesquisador rever conceitos e conclusões. Afirmar que as drogas sempre acabam com a vida de indivíduos e comunidades é algo que não se sustenta em dados.
O que Hart compartilha com Leary, Alpert e Metzner, e o que os livros de 1964 e 2021 têm a ver, é a noção de que, sejam quais forem seus objetivos com um psicodélico ou qualquer outro psicoativo, informação é peça-chave. Para o autor de Drogas para Adultos, devemos deixar de lado a hipocrisia e ter em mente que o mesmo ser humano que aprecia café e cerveja pode, no meio adequado (o set e o setting), recorrer a outras “drogas” sem comprometer sua “saúde e felicidade”.
Essa visão está longe de ser unanimidade, mas, se estreitarmos o foco para as pesquisas, particularmente as que avaliam as propriedades dos psicodélicos, o chão costuma ficar mais firme e a discussão, menos polêmica — como sugere a recente ascensão (e popularidade) da cannabis medicinal.
O Brasil tem se destacado nos estudos com psicodélicos, e um bom panorama a respeito está no livro Psiconautas (Fósforo), do jornalista Marcelo Leite, que documenta experimentos conduzidos em instituições como a USP de Ribeirão Preto e a UFRN.
Ainda assim, a fronteira entre drogas para fins recreativos, transcendentais ou terapêuticos continua sendo fluida, tênue.
O professor Dartiu se lembra de alunos contando que a cetamina — até então empregada como anestésico — reduzia certa depressão que aparecia após o uso de outra droga, o ecstasy. Por isso os jovens tomavam as duas na balada. “Cheguei a levar esse tema a reuniões científicas, e o pessoal me chamava de doido, falava que eu fazia apologia às drogas. Hoje a cetamina é o princípio ativo de um remédio patenteado e aprovado para alguns casos de depressão”, diz o médico.
Nesse sentido, outra palavra-chave se impõe: é com “ciência” que se poderá rever a regulamentação de substâncias lícitas ou ilícitas e fomentar e interpretar novos estudos sobre seus riscos e benefícios.
Talvez se levante a objeção de que, mesmo num cenário controlado e com psicodélicos de qualidade à venda, as pessoas estariam expostas a bad trips, quando a viagem mental vira um pesadelo. Só que, como apontam pesquisas e relatos, até mesmo o inferno que parece que não vai acabar (mas vai!) pode ser terapêutico — é o que os especialistas chamam de episódios de experiências desafiadoras.
Passando pelo céu ou pelo inferno, fato é que cresce o número de pessoas que, como usuárias, pacientes ou estudiosas do tema, veem os psicodélicos como uma ferramenta de transformação, capaz de reduzir sofrimentos e resgatar o bem-estar.
“Ao longo da história da humanidade, milhões fizeram esta viagem…”, lê-se em A Experiência Psicodélica. Depois dela, a neve tende a derreter, deixando trilhas à mostra, e o maestro cerebral se restabelece, talvez menos autoritário.
A realidade volta, com seus próprios desafios, e a vida segue, talvez mais colorida.
+ LEIA TAMBÉM: Vivemos uma epidemia de sofrimento mental?
Nem milagre nem panaceia
Os psicodélicos não devem ser encarados como panaceia ou ativos inócuos do ponto de vista da saúde.
“Quando se avalia o risco de uma substância psicoativa, a primeira questão analisada é seu impacto no sistema nervoso autônomo, que controla os batimentos do coração, a pressão arterial… Os psicodélicos clássicos têm uma atuação pouco significativa aí. Até pode haver alteração na frequência cardíaca, por exemplo, mas não é mais do que se espera de uma caminhada intensa”, explica Araújo.
“O que merece mais atenção são as mudanças no estado mental, que são transitórias, mas podem ser muito profundas”, completa o pesquisador da UFRN.
Assim, da mesma forma que outros princípios, só vai dar para prescrever a substância após ela ser validada em estudos e ponderar individualmente quem é o candidato e em que contexto ele vai recebê-la.
Presume-se que, para algumas pessoas, como quem tem esquizofrenia, há um risco que por ora contraindica o uso.
Terapia psicodélica: LSD, psilocibina e ayahuasca podem virar tratamentos Publicado primeiro em https://saude.abril.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário